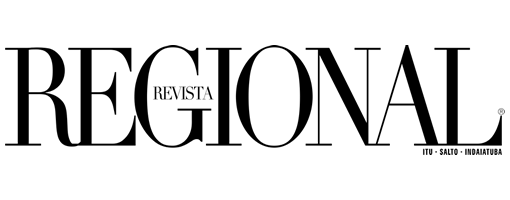O país acordou mais triste nesta sexta-feira, 05 de agosto. Morreu o apresentador, comediante, diretor e escritor Jô Soares, um dos maiores gênios da TV brasileira, responsável por vários programas de humor das décadas de 1960 a 1980 e do maior programa de entrevistas da história da TV brasileira, o Programa do Jô (na Globo e antes no SBT).
Jô Soares morreu às 2h30 desta sexta-feira, 05, aos 84 anos. Ele estava internado desde 28 de julho no Hospital Sírio-Libanês, na região central de São Paulo, onde deu entrada para tratar de uma pneumonia.
Nos últimos 25 anos, Jô ficou conhecido por ser o apresentador do talk-show mais famoso do país. Na TV Globo, estrelava o “Programa do Jô”, exibido de 2000 a 2016. Antes disso, fez o Jô Soares Onze e Meia, no SBT.
Considerado pioneiro do stand-up, também se destacou por ser um dos principais comediantes da história do Brasil, participando de atrações que fizeram história na TV, como “A família Trapo” (1966), “Planeta dos homens” (1977) e “Viva o Gordo” (1981). Além disso, atuou em 22 filmes.
Jô escreveu cinco livros, sendo quatro romances. A estreia foi “O astronauta sem regime” (1983), coletânea de crônicas publicadas originalmente no jornal “O Globo”. O romance “O Xangô de Baker Street” (1995) liderou as listas dos mais vendidos e foi adaptado para o cinema em 2001. As obras seguintes foram “O homem que matou Getúlio Vargas” (1998), “Assassinatos na Academia Brasileira de Letras” (2005) e “As esganadas” (2011).
Revista Regional publica novamente, neste 05 de agosto, a entrevista que Jô Soares nos concedeu em 2018, por ocasião da peça “A Noite de 16 de Janeiro”. Veja abaixo, na íntegra, a conversa que ele teve com a Regional.
ABAIXO A ENTREVISTA PUBLICADA EM AGOSTO DE 2018
Nascido em 1938, no Rio de Janeiro, Jô Soares é considerado um dos ícones da cultura brasileira, não só como entrevistador, mas humorista, escritor, dramaturgo, diretor teatral, ator e artista plástico. Ainda na juventude e com uma carreira promissora ao seu alcance, cogitou ser diplomata. É difícil imaginar um homem como Jô Soares num cargo de tanta seriedade, já que sua figura sempre foi ligada ao humor, mas com uma dose de sarcasmo. De classe média alta, estudou em excelentes escolas, e de quebra fala seis idiomas, mas nem sempre sua posição social lhe favoreceu. Quando necessário, chegou a trabalhar de office boy e até vendedor, mas sua relação com o teatro foi mais forte. “As minhas últimas opções era ser motorista de praça, porque eu poderia escolher os horários e conseguiria ir ao teatro. Eu tenho duas paixões, a televisão e o teatro. Elas são sempre bem balanceadas na minha vida. Estou fazendo as duas e de vez em quando paro para escrever um livro ou fazer uma exposição de artes plásticas. É como se diz no sul: ‘Quando se é mordido por cachorro louco, não se cura nunca.’. É uma paixão e acima de tudo acredito que tenho sorte de fazer o que gosto. A minha profissão é de risco e, por isso, vale muito a pena. O desafio me interessa”, revela ele que, embora tenha dado adeus ao seu programa de entrevistas, dedicou-se ao canal Fox Sports, fazendo comentários sobre a Copa do Mundo. De volta aos palcos em “A Noite de 16 de Janeiro”, Jô fala com desenvoltura sobre o espetáculo, e aproveita para deixar claro o seu posicionamento político, já que a peça tem tudo a ver, e se passa num tribunal. “Não existe esquerda ou direita, e sim posições. Eu digo que sou intelectualmente um anarquista, porque se tem um governo, sou contra, estou criticando”, argumenta.

REVISTA REGIONAL: Quando jovem, o senhor pensou em seguir a carreira de diplomata, mas terminou desistindo. O que aconteceu durante esse período?
JÔ SOARES: A carreira de diplomata surgiu, no sentindo do que eu poderia ser, e na época eu estava pensando no Itamaraty, mas não sabia se era bem isso que eu queria. Eu tinha diplomas para entrar em Oxford, mas não entrei. Voltei da Europa, e meu pai havia perdido tudo, eu tive que trabalhar como office boy numa empresa de exportação de café. Depois fui trabalhar numa empresa de turismo, que eram as únicas profissões que me vinham à cabeça, pelo fato de eu falar seis línguas, por isso, pensei na área de turismo, mas só consegui vender duas passagens para Belo Horizonte de trem. Então, eu digo que realmente não é por aí, mas as minhas últimas opções era ser motorista de praça, porque eu poderia escolher os horários e conseguiria ir ao teatro. Eu tenho duas paixões, a televisão e o teatro. Elas são sempre bem balanceadas na minha vida. Estou fazendo as duas, e de vez em quando paro para escrever um livro ou fazer uma exposição de artes plásticas. É como se diz no sul: “Quando se é mordido por cachorro louco, não se cura nunca.”. É uma paixão e acima de tudo acredito que tenho sorte de fazer o que gosto. Não sei de onde é a frase, mas ela diz que se você escolher o trabalho que mais ama, não irá trabalhar um dia sequer. A minha profissão é de risco e, por isso, vale muito a pena. O desafio me interessa. Aliás, foi por isso que eu aceitei o convite da FOX Sports. Eu não consigo dispensar um convite para falar sobre um assunto que sempre me fascinou com a possibilidade de errar. Tudo isso, me divertindo muito.
De volta aos palcos, o senhor está interpretando e dirigindo a peça “A Noite de 16 Janeiro” da filósofa russo-americana Ayn Rand (1905-1982). A primeira questão é que tipo de diretor o senhor costuma ser? E como chegou a esse texto?
Respondendo a primeira pergunta, eu acredito que escutar faz parte de um respeito que sempre deve existir. Eu não dirijo na base da tirania e sim do convencimento, de saber ouvir. É claro que às vezes a pessoa fala sobre algo que talvez não dê certo. Você espera, escuta, pensa e diz não! Odeio diretor tirano. Quando isso acontece pode ter certeza de que após um mês, o ator estará fazendo do jeito dele. Não podemos impor tirania no teatro. Se fizer, faça em curto prazo porque depois é impossível. O ator tem um tigre dentro dele que não podemos domesticar. O que podemos fazer é ensinar o caminho, do contrário ele te come. Sobre a peça, eu estava procurando uma que falasse de tribunal e, de repente, encontro “A Noite de 16 de Janeiro”. É o dia do meu aniversário. Eu fui ler mais sobre a Ayn e ela se tornou uma incógnita. Considerada a musa dos conservadores americanos, ao mesmo tempo que Rodrigo Janot abre a condenação contra Aécio Neves, com um texto dela, que é de esquerda. Aliás, não existe mais esse negócio de esquerda e direita, e sim posições. Eu digo que sou intelectualmente um anarquista, porque se tem um governo, sou contra, estou criticando. Agora então, que eu não preciso mais votar, p*** que pariu. A Ayn não pode ser chamada de mulher de direita ou esquerda, ela segue a filosofia que se chama objetivismo, onde ela coloca o ser humano em primeiro lugar. Ela não acreditava em Deus, quer dizer, não sei se ela não acreditava em Deus, mas não acreditava nas religiões estabelecidas, porque achava que era hipocrisia. As pessoas não conseguem rotulá-la.
O senhor ficou um período longe dos palcos e agora retorna com um elenco enorme, e interpretando um juiz. Como tem sido essa experiência?
Maravilhoso! Por isso, decidi fazer esse espetáculo com essas pessoas, porque eu fiz oito peças solos, que não eram stand up, era uma apresentação que chegava a ter uma hora e vinte, o primeiro chegou a ter dois atos com duas horas. Uma vez o Paulo Autran foi assistir a um espetáculo que eu fazia, preciso falar sobre isso, depois ele passou no camarim me disse: “Você consegue experimentar o paletó de mil maneiras, em frente a um espelho imaginário. Esse é o maior número que eu já vi na minha vida.” Isso dito pelo Paulo Autran. Dava para ver que era um trabalho de ator. Depois eu fui fazer Fernando Pessoa (Remix de Pessoa, 2007), dirigido pela Bete Coelho, eu disse a ela que amava o Fernando, e no dia seguinte ao convite, eu já estava com o cenário todo pronto. E a Bete além de ser uma atriz extraordinária, é uma amiga maravilhosa, e uma diretora espantosa. Eu fui para Portugal e eles amaram a ideia de eu fazer Fernando Pessoa na terra deles, foi extremamente gratificante. O Toninho, que sempre me acompanha no som e na imagem, cronometrou no Centro Cultural do Belém, algo que eu nunca tinha visto, aliás, não acontece muito no Brasil, a não ser nos musicais, nós somos meio avarentos de aplausos. Eu também sou. Ele cronometrou e foram seis minutos de aplausos. Eu não sabia mais o que fazer, desci as escadas, abracei as pessoas, porque eu estava sozinho, não tinha atores pra dividir a cena. São experiências que eu considero como de um homem de teatro. Fizeram uma tese sobre mim. Por que eu? Um trabalho extraordinário.

O Matinas (Suzuki Jr.) escreveu “O Livro de Jô – Uma Autobiografia Desautorizada” e vocês fizeram uma parceria muito bacana, mas não só para o livro, como para o teatro também.
Eu tenho um entrosamento de alma com o Matinas que vem de anos. Eu tenho a impressão de que nunca aconteceu tão plenamente. Ele estava me atazanando para escrever esse livro há anos, a partir daí acredito que são planos místicos. Houve um entrosamento em que era eu e ele, ele e eu. Ele é de teatro também, o chamei para fazer a adaptação comigo, e ele me deu dicas preciosas, mas não de jornalista, nem de escritor, mas teatrais. Nós precisamos viver dos nossos mistérios, porque cada dia você é um. Esse livro só saiu porque ele topou fazer comigo, e eu aprendi muito com ele, e eu acho que ele também aprendeu muito comigo. Existe uma inserção de diálogos, que é muito difícil de um jornalista assimilar, e que ele entendeu e conseguiu dar flexibilidade à história. Uma coisa é você contar, outra é colocar um diálogo como aconteceu, que são engraçados. Eu falo essas coisas, mas não é pra me gabar, mas também é. Eu fui acordado com um telefonema do José Alberto Aguiar, extraordinário artista plástico, para dizer o seguinte: “Acabei de ler o seu livro. É o livro da justiça”. Eu nunca tinha visto sobre esse ângulo, e aos poucos fui entendendo o que ele queria dizer, que eu estava fazendo justiça para as pessoas esquecidas, enfim, isso pra mim foi um elogio gigantesco. Ele me disse: “você é a única pessoa que nunca se incomodou em ser chamado de gordo, pelo contrário. São descobertas que nós fazemos todos os dias das nossas vidas.”
Normalmente, o que um bom texto precisa ter para que o senhor tenha vontade de levá-lo para os palcos?
Serei absolutamente sincero! Nunca sei o que me atrai porque as minhas escolhas são feitas muito mais pelo irracional do que cerebral. Vejo e digo se quero fazer. Não estou inventando, mas não sei explicar. Eu acredito ser muito mais pela empatia pessoal de quem me convida. Já recusei trabalhos de peças ótimas, com atores excelentes, mas na hora não bateu. É uma loucura! Gostaria de ter uma escolha intelectual, mas este lado está a serviço dos artistas. Nunca faço nada extremamente racional e a minha criação é sempre irracional e vem naturalmente. O ser humano sempre teve dificuldade de se comunicar. Mas o que eu queria dizer é que para qualquer espetáculo, o ensaio de mesa é fundamental porque a peça nasce e cresce dessa forma. O teatro foi feito para ser lido em pé. Esse é o momento de parar a mesa. Eu sou muito minucioso neste trabalho. Eu dirigi “Tróilo e Créssida” (2016) com praticamente todos os atores que estão nessa peça. Eu tenho um produtor maluco, que é o Rodrigo (Velloni), que topa tudo. É uma motivação extraordinária, um cara que topa lidar com uma produção desse tamanho, e ainda ser sério. Ele cobra que eu mande as notas, mas eu não mando, são bobagens, besteiras. Quero continuar com esse grupo, e realizar assim como Fagundes (Antônio) que chegou à loucura de ter 38 pessoas, sem patrocínio. Eu não quero mais sair do teatro, porque é uma maneira de eu estar integrado, de estar no elenco, porque não há nada melhor para mim. Estou com 80 anos, e pretendo trabalhar até os 90, pelo menos. Outro dia um rapaz me perguntou o que eu pretendia fazer nos próximos dez anos, eu respondi: “90 anos”.
O senhor acredita que buscar autores estrangeiros faz com que o teatro brasileiro tenha a oportunidade de navegar por outras águas?
Da minha parte espero que sim. Existe teatro bom e ruim e às vezes vejo espetáculos absolutamente caretas, como concepção de vanguarda, ótimo, mas com atores que não conseguem realizar adequadamente. É fundamental ter conexão com a plateia. Eu acredito que exista uma confusão em relação ao realismo naturalista, com naturalista das novelas, inclusive pelo tempo que se tem pra fazer. O ator é o menos favorecido numa produção, porque ele precisa ler seis capítulos e matar em uma semana. Não dá pra se aprofundar em nenhum realismo, porque geralmente aparenta um naturalismo bem feito. Existem personagens bons, mas são bem delineados que se repetem através das novelas. Essa confusão atrapalha um pouco a visão que se tem sobre o teatro. O Victor Garcia era um craque, ele contava com um elenco que sabia o que queria dizer. Quando falo em comédia quero dizer que é muito mais uma questão de humor do que comédia propriamente dita. É uma maneira de avaliar a vida com humor, inclusive os trágicos como Dostoiévski, que tem cenas engraçadíssimas, porque do contrário ninguém suportaria. O próprio “Ricardo III” é um bufão de humor negro do Skakespeare. Eu sempre falo muito mais do humor do que da comédia. Os espetáculos de vanguarda têm que ter essa visão de mundo, por mais cruel que seja, tem que haver um afastamento.
No início da sua carreira o senhor interpretava muito personagens humorísticos, através dos seus quadros. Em algum momento bate saudades desses personagens?
Dos personagens eu não sinto falta, sinto saudades, mas acho que eles não morreram, estão hibernando. Não sinto vontade, e não tenho nenhum comichão de fazer quadro de humor. O humor continua presente na minha vida. Quando fico muito tempo longe dos palcos eu sinto falta, tantos os espetáculos solos ou quando estou contracenando com outras pessoas. Cada vez que subo no palco, bate uma saudade e até fico arrepiado. Não sou um ator frustrado porque fiz uma série de coisas que queria fazer.
No humor tudo é válido?
Depende da visão e do critério de cada um. Para mim, vale tudo, mas o meu é diferente de outros comediantes. É muito pessoal. Em princípio vale tudo, porque quando deixa de valer, é a postura conservadora, logo reacionária. É claro que tem coisas que eu vejo e não acho a menor graça, mas não é o fato de ficar indignado.
texto: Ester Jacopetti
foto: Pri Prade