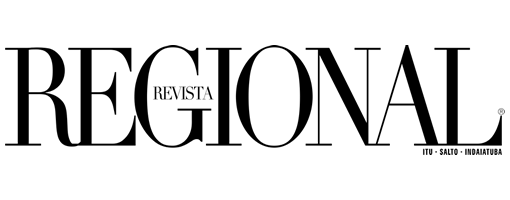Escrever não é uma tarefa fácil. Transformar pensamentos em frases requer tempo, criatividade e conhecimento. Conhecimento esse que se adquire com o tempo, em salas de aulas, livros, revistas e pessoas.E escrever sobre alguém que domina essa arte, é algo ainda mais difícil. Eliane Brum é uma daquelas raras pessoas que conseguem fazer com que as palavras sejam mais do que palavras. Em suas mãos, elas transformam-se em lágrimas, risos, incredulidade e, acima de tudo, mais conhecimento sobre a vida.Um parágrafo escrito por essa jornalista, escritora e documentarista, gaúcha de Ijuí, pode levar o leitor até a Bolívia, para dentro do peito de Cristina, uma senhora que morreu com o coração grande, “graças” a Vinchuca, nome em quéchua para o conhecido “barbeiro”, responsável pela Doença de Chagas. Ou então mostrar outra versão dos fatos, como o caso do “Filho de Eike Batista”, que ao término da leitura faz o leitor se enxergar na pele do ciclista, morto na hora pela pancada do carro de luxo, dirigido por Thor Batista. Com mais de mais de 40 prêmios nacionais e internacionais de reportagem, como Esso, Vladimir Herzog, Ayrton Senna, Sociedade Interamericana de Imprensa e Rei de Espanha, e mais de 20 anos de carreira, Eliane Brum atendeu com exclusividade a reportagem de Revista Regional, coroando essa edição em comemoração aos dez anos da publicação.
Revista Regional: Com “Uma Duas”, você saiu do documentário para estrear na ficção. Como foi esse processo?
Eliane Brum: Na verdade não saí de um lado para ir para outro. O que tenho feito é não fechar meu círculo, mas sim ampliar. A ficção também é uma forma de expressão, e surgiu de uma experiência que tive com a morte, não a morte trágica, mas sim a da maioria das pessoas, a morte calada.Acompanhei os últimos 115 dias de Alice de Oliveira de Souza, uma merendeira que quando se aposentou descobriu-se com câncer.A partir dessa experiência, fui tomada pelo que estava sentindo. A impressão que tinha era a de que se não escrevesse, ia sair um braço da minha barriga.Eu sou uma contadora de histórias, posso contar de várias maneiras. A ficção envolve, desmascara. Digo que fui puxada para um lago muito profundo.A ficção, diferente das reportagens em que preciso me esvaziar para deixar o outro me invadir, é um processo inverso. No livro, por exemplo, me deixei ficar possuída pelas vozes de dentro.
A ficção, por não ser uma história real, te dá mais liberdade para escrever?
Eu achava que sim, mas descobri que não. Que o escritor, diferente do que já falei, não é um deus. O que foi acontecendo comigo durante o processo de escrita, me mostrou isso. Parecia que quando escrevia sobre a Laura, ela estava encostada em mim, no meu pescoço. E desde o início, minha intenção era escrever uma história com uma narradora só. Mas então, acordei um dia à noite escutando a voz enjoada da mãe, ela queria falar, dar a sua versão da história, eu precisava dar voz aquela mulher.Às vezes eu passava odia enjoada, foi um processo bem visceral, eu escrevia todos os dias. Durante a elaboração do livro, percebi que durante minhas atividades eu não estava lá por completo, estava sempre pensando em Laura e em sua mãe.
E quando o livro foi finalizado, você sentiu o luto por isso?
Não sei se foi um luto, porque elas ainda não saíram. Quando o livro foi para a rua, ele já não me pertencia mais, e ainda hoje, quando escuto alguém falando mal das personagens, fico incomodada, porque foi uma relação muito próxima.
No livro “Dignidade” da organização Médicos Sem Fronteiras, você reporta a história dos doentes de Chagas da Bolívia. Como foi acompanhar aquelas famílias?
É uma situação de horror. Lá, as pessoas não conhecem a vida sem o mosquito. As crianças já nascem com a Doença de Chagas. Anos atrás, os moradores mais pobres, não associavam a morte súbita de seus familiares e amigos, com os mosquitos. Isso mudou com a chegada dos Médicos Sem Fronteiras.Quando cheguei, a ideia era fazer um livro de ficção, mas quando vi a situação, não podia deixar aquelas pessoas sem voz. Elas precisavam ser escutadas, elas tinham que ter nome, sobrenome e um rosto. Seria uma traição não fazer isso.Fiz duas reportagens e cada uma com um eixo. O primeiro foi a história da Maria e da Cristina, que andaram de ônibus por cinco horas para chegar a Cochabamba em busca de tratamento. Elas não atravessaram sócidades, mas sim mundos. Ambas precisaram enfrentar preconceitos e o medo. Nesse encontro, as duas traçam um panorama da doençacom delicadeza. Fiquei sabendo da morte da Maria no dia em que o Papa renunciou. Fiz uma coluna sobre isso, sobre como é possível que pessoas ainda morram por conta da Doença de Chagas.A segunda reportagem foi sobre uma família em que todos têm a doença. Durante o processo, fiquei muito próxima da filha mais nova, a Sônia, de 11 anos, que tinha olhos de velha.Todos nós convivemos com a morte, mas nos esquecemos dela. É algo que não atrapalha nosso dia a dia, mas ela não. Olhando para Sônia, você sabia que ali havia acontecido um crime, que as pessoas de sua família estavam frágeis. Quando fui me despedir, ela me deu um abraço e pediu “Não me deixa morrer”.Essa foi a primeira vez que me confrontei com a impotência, na hora eu respondi que iria contar a vida dela para o mundo. Mas quando voltei, fiquei paralisada por duas semanas. Emagreci sete quilos. Até que pensei que precisava cumprir o que havia prometido, tinha que dar voz a ela. As palavras são poderosas, não é o suficiente para mudar a vida deles, mas é possível.
Seus textos trazem experiências da vida e não apenas informações. É desse contexto que nascem suas relações com as fontes?
Eu acho que ninguém entra na vida das pessoas impunimente. Esse processo de esvaziar para ser preenchida pela voz do outro, é algo demorado.Uma parte do meu relacionamento acaba junto quando a reportagem é publicada, porque eu também fico no passado, como aconteceu com a Severina, do filme “Uma história Severina”, que foi em busca da autorização judicial para interromper a gestação de um feto anencéfalo. Eu a acompanhei em momentos brutais. Ela foi a primeira a ver o documentário, e hoje segue sua vida.Mas com outros continua a relação, eu sempre procuro saber como estão, foi assim com a própria Cristina. Eu sabia que ela ia morrer, mas isso parecia distante, porque ela era muito viva. Foi muito triste.Com a Alice, que acompanhei nos seus últimos 115 dias, eu precisei romper meu luto por ela, que durou um ano. Foi nesse rompimento que escrevi “Carta de Adeus”.Sou povoada por histórias, elas nunca acabam e eu sigo as acompanhando. Acompanho uma família de São Paulo desde 2002, que desde então me procura para contar como está a vida. Antes isso era feito por telefone, agora é por e-mail, porque eles já compraram um computador. E com tanta informação, percebi que tenho um panorama do governo de Fernando Henrique Cardoso, do governo de Lula e de agora. É um relato de vida.
Você possui mais de 40 prêmios. Existe algum em especial?
Sempre fico muito feliz com os prêmios, me dá frio na barriga, fico ansiosa, e é sempre a mesma coisa. Todos são importantes dentro do contexto de cada um. Mas nunca escrevo pensando no que aquele relato pode me dar. Os prêmios são uma consequência, é o reconhecimento do meu trabalho.Quantas vezes precisei brigar por uma pauta que ninguém acreditava e que depois foi premiada? Isso é bom, me dá mais espaço na redação, uma abertura maior.
Em sua coluna semanal na revista Época, você escreve sobre fatos relevantes que antecederam sua coluna, ou temas como o amor de seus pais. Como define sobre o que vai publicar?
Ela me dá bastante trabalho. Eu preciso estar sentindo a necessidade de dizer algo. Quando os assuntos da semana estão em voga, só escrevo se sei que tenho algo novo a dizer. Não posso subestimar a inteligência do leitor e nem o seu tempo.Ao mesmotempo, utilizo da minha memória, não para falar do meu umbigo. Nisso tudo entra ainternet,que é maravilhosa porque ela permite o tamanho necessário do texto. Sempre ouvimos dizer que o leitor não gosta de textos longos, mas os meus têm em média 15 a 20 mil caracteres, daria quase dez páginas de revista. Com isso percebi que o que o leitor não gosta é de texto ruim. Acompanho os acessos e vejo até o tempo em que permaneceram na página e isso é muito bom.Os textos da coluna me permitem dar a profundidade necessária, resgatar essa intensidade.
Mais sobre Eliane Brum
Jornalista, escritora e documentarista, Eliane Brum é autora do romance “Uma Duas” (Editora LeYa) e de três livros de reportagem: “Coluna Prestes – O Avesso da Lenda” (da Artes e Ofícios), “A Vida Que Ninguém Vê” (da Arquipélago Editorial) e “O Olho da Rua” (da Globo). Eliane é ainda codiretora de dois documentários: “Uma História Severina” e “Gretchen Filme Estrada”.
entrevista e texto Yara Alvarez
fotoLiloClareto